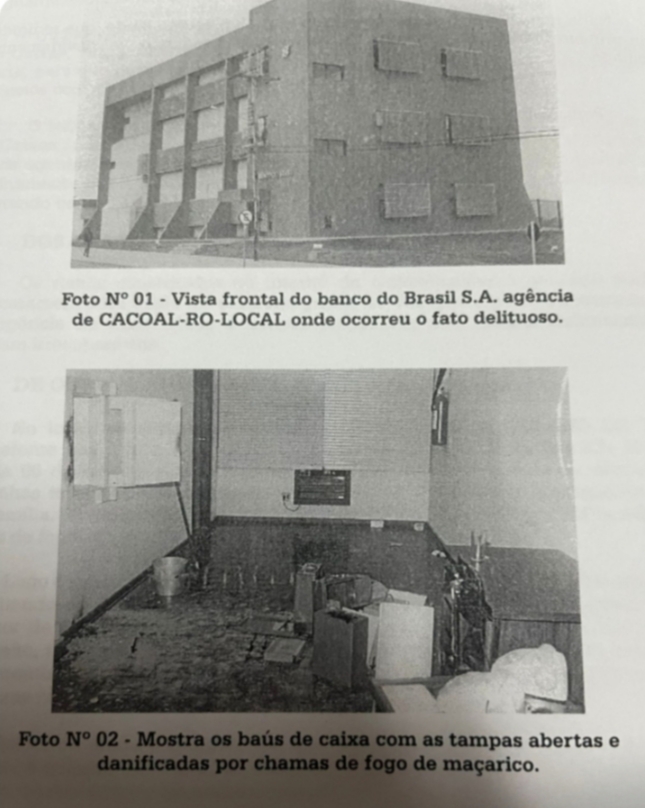Josias de Souza
No último dia 22 de agosto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, abriu uma fenda na agenda para encaixar uma visita. Recebeu em seu gabinete a senadora Kátia Abreu (PMDB-TO). Autorizada pela amiga Dilma Rousseff, Kátia foi conversar sobre a sessão de julgamento do impeachment, que ocorreria dali a nove dias, na manhã do dia 31.
Ex-ministra da Agricultura de Dilma, a senadora informou a Lewandowski que apresentaria um requerimento inusitado aos 45 minutos do segundo tempo do julgamento do impeachment. Queria votar separadamente a deposição de Dilma e a punição que poderia bani-la da vida pública por oito anos. Confirmando-se o afastamento da presidente, Kátia tinha a esperança de livrá-la do castigo adicional.
A senadora foi à presença de Lewandowski acompanhada de João Costa Ribeiro Filho, um personagem cujo anonimato não faz jus ao protagonismo que desempenhou no enredo que produziu mais uma jabuticaba brasileira: o impeachment de coalizão, no qual o PMDB, partido do “golpista” Michel Temer, juntou-se ao PT para suavizar a punição imposta à “golpeada” Dilma, preservando-lhe o direito de ocupar funções públicas mesmo depois de deposta.
Partiu de João Costa —um advogado mineiro que cresceu em Brasília e entrou para a política no Tocantins— a ideia de fatiar o julgamento do impeachment. Por ironia, o autor da tese que atenuou o suplício de Dilma já pertenceu aos quadros do tucanato. Em 2010, filiado ao PSDB, tornou-se suplente do senador Vicentinho Alves (PR-TO). Em 2011, trocou o ninho pelo PPL, Partido da Pátria Livre. Chegou a assumir a poltrona de senador por alguns meses, entre outubro de 2012 e janeiro de 2013.
Até ser apresentado à tese de João Costa, Lewandowski não cogitava realizar senão uma votação no julgamento do impeachment. Assim pedia o parágrafo único do artigo 52 da Constituição: “Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.”
Quatro dias antes da visita a Lewandowski, João Costa telefonara para Kátia Abreu. Pedira para ser recebido. Atendido, abrira a conversa afirmando à interlocutora que a defesa de Dilma cometia um erro comum nos tribunais de júri: preocupava-se obsessivamente com o mérito da acusação, sem atentar para a pena. Ele havia estudado a matéria. Apresentou um roteiro que levaria à votação fatiada. Passava, em essência, pelo regimento interno do Senado, que prevê o DVS (destaque para votação em separado) e pela Lei 1.079, que contempla a votação em fatias.
Kátia Abreu, até então mergulhada no esforço para tentar conquistar os 28 votos que enterrariam o pedido de impeachment, impressinou-se com os argumentos de João Costa. “Liguei para a Dilma”, recordou a senadora, numa conversa com o blog. “Preciso ir aí, tenho um assunto seríssimo para falar com a senhora. É particular, sem ninguém por perto.” Kátia rumou para o Palácio da Alvorada. Levou João Costa a tiracolo. Imaginou que a amiga reagiria mal à prosa. Falar sobre dosimetria de pena àquela altura significava admitir que a condenação era mesmo inevitável. “Para minha surpresa, ela entendeu e recebeu muito bem.”
Sabendo-se praticamente cassada, Dilma autorizou Kátia Abreu a dar sequência à articulação. Por sugestão da senadora, organizou-se uma reunião com José Eduardo Cardozo, o advogado petista de Dilma. Que também reagiu com naturalidade. Firmou-se um pacto e sigilo. A notícia de que Dilma já guerreava pela atenuação do castigo seria interpretada como símbolo da rendição. Algo que a confinada do Alvorada preferia não admitir em público.