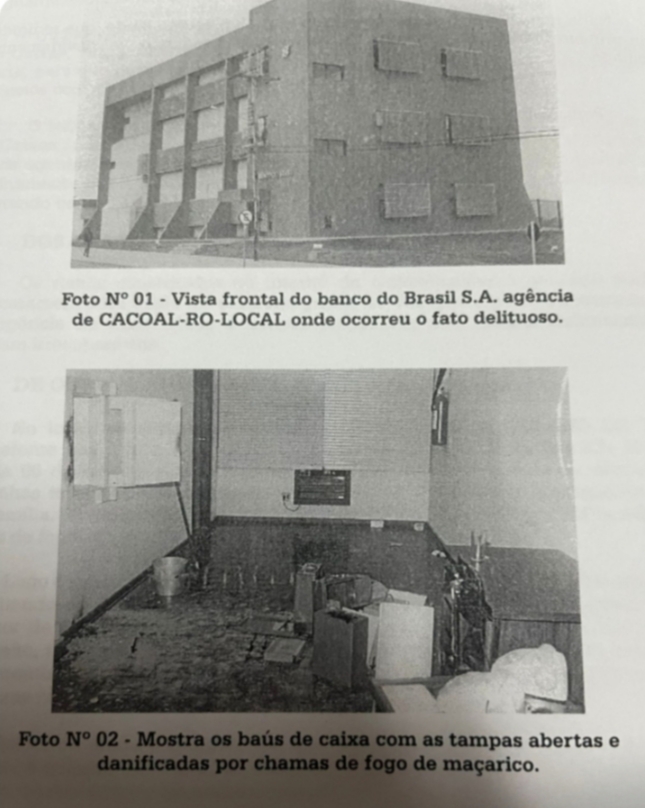A seis dias do término do segundo turno, Marina Silva emergiu para declarar o seu “voto crítico” em Fernando Haddad. Moveu-se por rejeição a Jair Bolsonaro. Ao justificar sua opção, explicou que “pelo menos” o candidato petista ‘‘não prega a extinção dos direitos dos índios, a discriminação das minorias, a repressão aos movimentos, o aviltamento ainda maior das mulheres, negros e pobres‘‘.
Cumprido o protocolo, Marina precisa agora conceder um “voto crítico” a si mesma. Costuma dizer que não deseja “ganhar perdendo”. Prefere “perder ganhando” —como em 2014, quando a pancadaria de Dilma Rousseff deixou-a fora do segundo turno, mas com um patrimônio de 22 milhões de votos. E com uma biografia sem pesticidas e alianças esdrúxulas.
Em 2018, Marina perdeu perdendo. Entrou na disputa como uma candidata altamente competitiva, a bordo de um partido sem menções na Lava Jato. Terminou numa constrangedora oitava colocação, com pouco mais de 1 milhão de votos. A Rede, sua legenda, terá de fundir-se a outro partido para não desaparecer.
No texto que redigiu para justificar seu gesto, Marina reconheceu: “Sei que, com apenas 1% de votação no primeiro turno, a importância de minha manifestação, numa lógica eleitoral restrita, é puramente simbólica. Mas é meu dever ético e político fazê-la.”
Apoiando criticamente a si mesma, Marina talvez perceba que não terá futuro político sem ajustar o seu português ao linguajar da rua. De resto, deve se abster de tomar chá de sumiço pelos próximos quatro anos. Sob pena de suas manifestações perderem até mesmo o valor “puramente simbólico.”